
por José Miguel Wisnik
Edson, seu duplo e anjo protetor, livrou o jogador dos demônios da glória que consumiram Maradona e Garrincha
Pelé confessou certa vez que guardava consigo um enigma que só poderia decifrar quando encontrasse Deus face a face e pudesse interpelá-lo diretamente. A questão que o atormentava era o seu sentimento de dupla identidade, o de ser Pelé, alcunha da maior lenda viva do esporte planetário no século 20, e ao mesmo tempo Edson Arantes do Nascimento, o homem comum a quem cabia “cuidar do Pelé” e arcar com o peso de sua existência quase sobrenatural.
Pelé, a quem Edson se referia muitas vezes na terceira pessoa, considerava, talvez com algum humor, que Deus lhe devia uma explicação sobre a razão de ter cabido a ele, ou a eles, o duplo destino de sustentar uma condição divina aos olhos do mundo sem deixar de sentir-se demasiado humano. Quem morreria ao morrer, perguntava-se ainda, já que nele coabitavam o semideus encarnado e a mais simples das criaturas?
Não duvido da autenticidade de seu drama, colocado nesses termos tão singelos quanto intrincados. Quem o viu jogar não duvidará de que Deus lhe devia, sim, uma explicação. Pelé, a mais consumada e luminosa perfeição já aparecida em um campo de futebol, foi arrastado para a fama extremamente jovem, sem ter, no princípio, a consciência de sua própria excepcionalidade.
Seu objetivo mais íntimo, segundo conta, concentrava-se em atingir a grandeza irrealizada que enxergava no pai, que fora um jogador admirável e obscuro, de modo a redimi-lo de uma carreira futebolística fracassada. Quando deu por si, já era o ídolo máximo do esporte mais popular do planeta, tendo sido revelado fulgurantemente aos 17 anos na Copa do Mundo de 1958.
Tudo isso participa de uma era de inocência esportiva que já vai longe. Os jogos de futebol eram transmitidos pelo rádio, viravam imediatamente narrativas orais, com o correspondente caráter lendário que as impregna.
A carreira de Pelé apoiou-se primeiramente na transmissão radiofônica e mais tarde na televisão, que o consagrou definitivamente na altura de 1970, quando a seleção brasileira tornou-se tricampeã do mundo.
Grande parte dela, incluindo alguns de seus maiores gols, não dispõe de registro visual. Mas já ao longo dos anos 1960 Pelé fazia-se reconhecer, de maneira unânime, como o rei do futebol, sustentando sua majestade com a nobreza natural de quem entendia o valor de sua figura para cada plebeu com o qual, como já foi dito, ele próprio se identificava.
Ninguém reuniu como ele as capacidades do drible e da velocidade, do chute com as duas pernas, do cabeceio preciso e fulminante, do jogo rasteiro e do jogo aéreo, do senso mágico do tempo de bola, do entendimento instantâneo do que sucedia à sua volta, tudo baseado numa constituição atlética vigorosa e rigorosamente equilibrada.
Mesmo assim, o efeito-Pelé não se resume a uma soma, ainda que única, de habilidades quantificáveis. Um poeta e ensaísta observou que ele parecia arrastar o campo consigo, como uma extensão de sua pele, em direção ao gol adversário. Um filósofo conectado com o futebol admitiu, com certa graça, a possibilidade da contemplação, nele, de lampejos do Absoluto.
A beleza e a inteligência do corpo em ato, mais o olho de lince e a imprevisibilidade do pulo do gato, faziam com que Pelé parecesse funcionar numa frequência diferente da dos demais jogadores, assistindo em câmera lenta ao mesmo jogo do qual estava participando em alta velocidade, enquanto outros, em torno dele, pareciam estar, tantas vezes, assistindo ao jogo em alta velocidade e jogando em câmera lenta.
O fenômeno foi rapidamente detectado e acolhido em todos os continentes, da Europa à África, da América Central à Ásia, muito antes da implantação generalizada da engenharia de marketing. É que sua existência se conecta com o mundo por meio de uma sintonia simbólica de outra natureza.
Além de reconhecido e reverenciado nos meios tradicionais do futebol europeu, esse suave homem negro, representante de um país periférico e atuando numa linguagem não verbal de máxima irradiação, foi percebido, celebrado e amado nos mais diversos rincões do mundo como a afirmação eloquente por si só de uma grandeza maior do que qualquer supremacia política e econômica.
No Brasil, seu surgimento é contemporâneo da arquitetura original de Brasília, a nova capital fundada em 1960, e do sucesso musical da bossa nova, que se dá à mesma época.
Já se disse que um gol de Pelé, uma curva arquitetônica de Oscar Niemeyer e uma canção de Tom Jobim cantada por João Gilberto soavam então como “promessa de felicidade”, da parte de um exótico país marginal que parecia oferecer ao mundo a passagem leve e profunda da linguagem popular à arte moderna sem arcar com os custos da Revolução Industrial.
A ditadura que se seguiu, a partir de 1964, deu sinais, recorrentes e insistentes até hoje, de que esse caminho não era tão direto nem tão simples, para dizer o mínimo.
Comportando-se de acordo com os ditames da tradicional sociabilidade cordial brasileira, que mascaram o racismo estrutural insidioso e a desigualdade social, Pelé não assumiu a rebeldia altiva de Muhammad Ali, nem os zigue-zagues passionais e políticos do argentino Diego Maradona, nem seguiu a linha carnavalesca e a curva trágica de Mané Garrincha, o outro grande craque brasileiro de sua geração. Mas permaneceu sendo o testemunho tácito e grandioso da negritude em ato.
Mais dionisíaco, politizado e inconstante do que Pelé, Maradona não deixa nunca de ser Maradona, ao custo de consumir-se no fogo de sua glória e de sua queda. Dispensando-se de interrogar Deus, faz-se o próprio Deus e seus próprios demônios em convulsão. Como Garrincha, Maradona vive a ascensão e a queda sem poder se separar de si mesmo.
Pelé, por seu lado, tinha Edson. Entre os gênios de seu tempo, permanece resguardado pelo seu duplo, que assume por ele as contingências da vida e os dramas pessoais em escala diminuída.
Mesmo que as novas gerações não tenham se defrontado com a sua aparição esplendorosa e indescritível nos campos de futebol, Pelé fica, graças ao seu anjo protetor, como que dispensado da decadência, permanecendo imortal em vida. Talvez Deus, se existir, lhe revele isso.
*Este texto foi originalmente publicado pelo jornal The New York Times


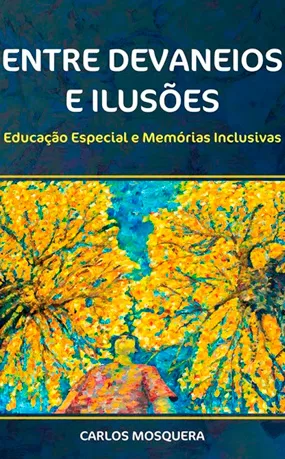

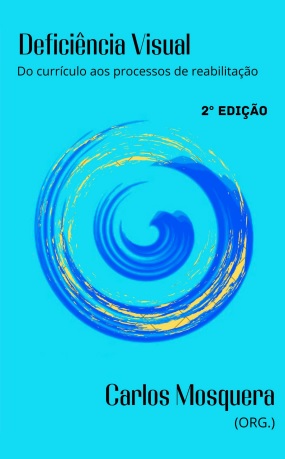
Deixe um comentário