
O coletivo insiste em apontar o possível e o impossível, mas assumir que certas experiências não vão atravessar uma jornada é íntimo
Minha amiga Denise está em festa. A filha, Sofia, que quando nasceu os médicos olharam e, sem disfarce, falaram em coro, “iiiixi”, acaba de passar em vários processos seletivos de universidades. Escolheu fazer letras numa instituição pública, mas também fará direito, no segundo semestre.
A garota fez toda aquela jornada do herói –à contragosto e com muito desgosto– inerente às pessoas com deficiência. Com uma paralisia cerebral nível terra arrasada, começou tentando ter sobrevida, em seguida deu um jeito de ser criança “diferente” que o mundo pergunta sem parar “o que é que ela tem”, para a mãe.
Foi se ajeitando em uma cadeira de rodas, após dezenas de cirurgias. Não falaria, falou. Não enxergaria, vê até estrelas. Não poderia, não chegaria, não conseguiria, não daria, nunca seria.
Um pouco mais tarde, começou uma aventura atrevida em busca de escola, veja só. E foi mais ou menos assim: “Não, aqui, nem pensar”. “’Difinitivamente’, impossível aqui”. “Mas para quê?”, falaram aqui, ali e acolá.
Enfiando-se pelas frestas, Sofia, teimosa, seguia, entre solavancos na calçada, incompreensões e sentenças. Chegar ao ensino superior, o lugar onde ela queria estar —com uma ótima nota no Enem— inaugura uma página em branco de sua vida. A vida que ela quer ter.
Quem pode determinar a vida que nunca teremos? Às vezes, nem mesmo as circunstâncias, mais inóspitas, as fatalidades mais aterradoras serão definitivas para ditar o sim, o não e o nunca mais.

Gabi usa estratégias não verbais para se comunicar, aprender e ser campeão de matemática Leitor/DivulgaçãoMA
É uma pena que a consciência disso esteja floreada por intragáveis discursos de esforço pessoal, de superação, de força de vontade. Não é assim que funciona.
Embora o coletivo insista em apontar o que é possível e o que é impossível na realidade alheia, o processo de assumir que certas experiências não vão atravessar uma jornada é sempre íntimo e faz parte de uma conclusão que é solitária, erguida dentro de emoções, valores, desejos e vontades do um.
Ao coletivo cabe carregar o manto, abrir as alas, chamar para dançar junto, entender que da mesma maneira como somos pequenez e quase nada diante do universo, somos uma infinidade dentro de nós mesmo.

Assim, tanto se cura, como se sucumbe, se aceita que nunca mais será “amado como eu te amei” ou ficará atento na janela para um novo romance passar, se afogará na falta da morte ou encontrará alento entre os vivos.
Mas é óbvio que existe sim, na minha vida cadeirante, na vida da Sofia, o pensamento sobre aquilo que não chegaremos a tocar, gostos que não poderemos saborear, abraços que não conseguiremos atingir. A vida que nunca poderemos ter.
É um grilo que toca incansavelmente uma sinfonia desarmônica que ora perturba o impulso de viver, com incômodos “não posso isso, não posso aquilo”, ora lembra que a diferença solapa tudo o que se considera certo, bonito, aventureiro, capaz, cheiroso e preparado.
O que importa mais, novamente, é o que você decide que será, que poderá. E tanto faz se suas iniciativas forem respirar melhor, passar no vestibular ou desistir de escalar o monte Everest. Claro que escrevo, sempre, na tentativa de ir além, de entrar onde não deixam. E agora tenho reforços. Bem-vinda, Sofia.
Por Jairo Marques (FSP 30/01/24)


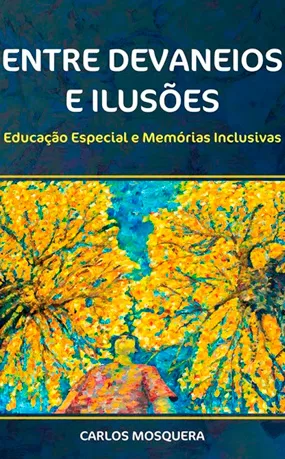

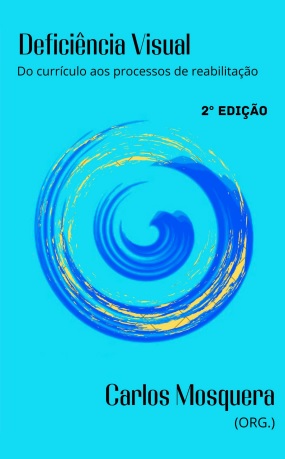
Deixe um comentário