
Aqui
Soprando a falência da cor. O sopro é gelado. Todos sopram com as mãos nos bolsos e gorros atolados nas cabeças.
Todos sopram enfiados em lãs ou nylons chineses.
Aprendi a amar esse cinza, suas dores, as cores que nele passeiam, elegantes mesmo que comuns. Ou se escondem, incolores. Ou nuas.
Tenho em mim cicatrizes do mundo, onde nasci, onde cresci, onde conheci, onde fiz isso, onde fiz aquilo, onde deixei de fazer, acho que esse ferro de marcar gado é coisa de velho, forçoso na alma, porém latente.
Mas amo esse cinza sofisticado – plúmbeo. Ou popular – grisalho. Dá no mesmo.
Sou carente de seus amores, suas gentes, prédios velhos, pombas esfaimadas, pipoca com bacon, bares engordurados, histórias verdadeiras ou inventadas, morcegos nos sótãos, copos manchados de cachaça com mentruz ou broa com carne viva, um cachecol de qualquer cor – sufocante.
Rafael Dely, um dos doces loucos alquimistas nessa cidade, a amava assim. Como amava Catherine Deneuve e Liza Minelli, seus sonhos e magias. E, de pronto, punha-se a assoviar a infalível “New York, New York”, entre tragadas fundas. Não o contrariassem, por favor. Curitiba era linda assim. Era sua. Ficava irritado quando o sol balançava a cabeleira por essas bandas. A cidade não teria graça. Não tinha graça, repetia. Não tem graça.
É preciso atravessá-la assim, a pisar e sentir as profanas pedras do Largo da Ordem, desordenadas. Assim, mesmo que essa senhora secular esconda símbolos malditos, signos que escorrem sangue, espanados da história, mas presentes no ainda, em cicatrizes que costuram passado, presente e indefinido.
Mas, a cor da cidade é a cor das pessoas, em enxames, feito insetos perdidos, na Rui Barbosa, praça que enterrou os clarins e ancora os ônibus de todos os cardeais, a despejar e recolher friorentos. Em outras praças, eles também esfregam e assopram as mãos.
Também amo essa senhora assim, com seu frio úmido e secular que vem em bafos, do frio que escorrega entre as pernas da Serra do Mar e sobe aos céus molhados.
É necessário atravessá-la viva, friorenta, queixos musicais, de barracos costurados em suas bordas. E olhar seus olhos nas paredes de Poty, versos de Helena, bigodes de Leminski, Niemeyer também me pisca cúmplice com o Olhão do Lerner.
Os ossos da minha avó gemem sob sua terra preta. Dona Zica, que me suportou, durante anos, sentado em engradados de cerveja, agora frita bolinhos para anjos embriagados. E o Padre, o Lauro, fechou a porta do boteco e foi fazer jogo-de-bicho noutros cantos.
O céu não tem clima, aqui a conversa é outra. Aqui, o frigir do filé do Palácio e do cheiro do Bife Sujo me contam onde estou. Contavam.
Dely me vê, a caminhar, pensativo, na manhã de cinza gelado, e sapeca:
“Quem quer sol e calor, vá pra Bahia”.
Por Nilson Monteiro
Fotografia: Daniel Castellano


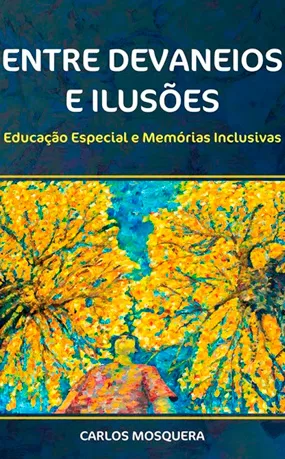

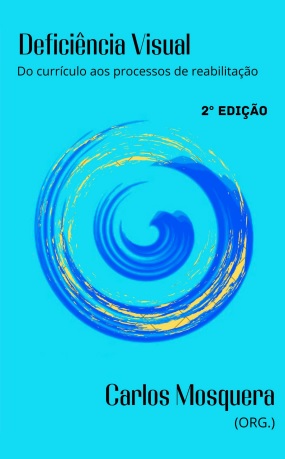
Deixe um comentário