
Modelo hegemônico é o mafioso, capaz de matar quem atravessa seu caminho
A família seria a rede de relações de intimidade a partir da qual se compartilha uma história comum, transgeracional ou recente, imprescindível para a constituição subjetiva. Ao longo da vida não temos como abrir mão dessas trocas pessoais que nos humanizam. Mas existe um abismo entre a família como fonte de humanização e a familícia, modelo hegemônico que pauta a família comum e que se organiza contra tudo e todos. De fato, elas são antagônicas, sendo a primeira o antídoto da segunda.
Desde o clássico “A Origem da Família, da Propriedade e do Estado”, de Friedrich Engels, de 1884, não há como negar a função última dessa estrutura a partir da qual, com a modernidade, a célula capitalista e patriarcal se reproduz. É no seio dela que o cuidado e a violência se perpetuam, pois ambos são intrínsecos a seu projeto de acumulação de bens e manutenção do poder a partir de um sobrenome.
O modelo acabado da família hegemônica, que a ficção não cessa de representar, é o modelo mafioso, aquele capaz de matar todo e qualquer um que atravessar o caminho dessa instituição-empresa, mas que também é capaz de se livrar dos próprios membros quando eles ameaçam seus status quo.
“Vale o Escrito” é uma série documental que escancara o jogo do bicho e as milícias a partir de depoimentos de policiais, jornalistas e dos próprios bicheiros. Nem sempre vemos a psicopatia desfilar diante das câmeras com tamanha desfaçatez. A lógica da família ali é exemplar: em nome dela se rouba e se mata os de fora, mas, se for necessário, os de dentro também.
Não podemos esquecer, por exemplo, dos jovens despejados de sua casas por não serem cisgêneros ou heterossexuais, por vezes ainda crianças, que são acolhidos por uma outra ordem de família, que se constrói a partir do desamparo e da exclusão. Como podemos ver no documentário de 1991, de Jennie Livingston, “Paris is Burning”, os enjeitados por sua condição dissidente em relação à norma familiar reprodutiva vão formar uma nova família, com direito a “mãe” e a um sobrenome, que é o nome da casa a que passam a pertencer.
Inúmeros são os relatos nos quais a família oficial dá lugar à família escolhida, único lugar no qual nos sentimos protegidos e reconhecidos pelo que somos, sem ter que entrar no moedor de carne das exigências impossíveis de serem atendidas.
A implosão da familícia, modelo que serve de inspiração inconsciente para a família comum, é condição para nossa sobrevivência enquanto sociedade. As famílias, enquanto núcleos de intimidade e cuidado, sempre existirão em função da necessidade humana de reconhecimento e acolhimento em relações não anônimas, mas é imprescindível que a dissociemos do parentesco, da propriedade e da reprodução.
Paul B. Preciado, no vertiginoso “Dysphoria Mundi: o som do mundo desmoronando” (Zahar, 2023), relata sua experiência isolado em seu apartamento, com Covid, durante a pandemia. A privação sensorial e de contato afetivo e as febres o levavam ao delírio e a momentos de epifania nos quais o filósofo reconheceu que a única coisa de que precisamos são condições de sobrevivência do corpo, da intimidade com os outros e da arte. A familícia, cujo objetivo é sempre a acumulação de bens para exercer o poder sobre as outras familícias, passa por cima dos três sem o menor escrúpulo.
Em belíssimo episódio do podcast de Ezra Klein, a rabina Sharon Brous, com a função de apontar para a ética e para a compaixão, exorta seus ouvintes a pensarem o círculo familiar como uma unidade aberta e porosa às demais famílias. Um apelo fundamental para quem pretende acabar com as guerras e deixar um planeta para a próxima geração.
Por Vera Iaconelli (FSP 05/12/23)


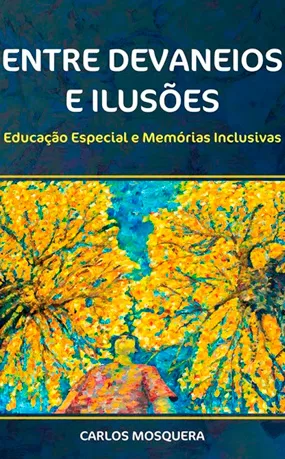

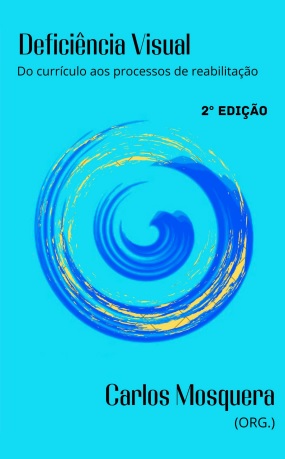
Deixe um comentário