
Faria uma foto ao lado da estátua, nem que tivesse que esperar uma hora ou duas
Os anos passam, a criança fica. Homem feito, a caminho da meia-idade, viajando entre Washington e Nova York, resolvi parar na Filadélfia.
Quem me acompanhava estranhou. Eu não menti: “Quero ir ao museu de arte da cidade”, justifiquei-me. E fui lá.
O táxi avançou pelas ruas e, ao longe, como uma grande visão do paraíso, lá estava o museu. Mas não era o recheio que me interessava. Não eram os quadros pintados por Cézanne, Rodin e Pollock.
Era aquela escadaria exterior, que nos meus sonhos era imponente, imensa, interminável e que eu queria subir, correndo, dois degraus de cada vez, ou três, até chegar no cimo e, com a cidade aos meus pés, levantar os braços como o lutador Rocky Balboa.
Os anos passam, a criança fica, mas não era o único: multidões de todas as idades corriam pelas escadas acima e eu, que sempre fugi das aulas de ginástica com as justificações mais absurdas —por apendicite, enxaqueca, coceira desgraçada e novamente apendicite—, também fui lá.
Começar é fácil, acabar é difícil. Parei a meio, só para recuperar o fôlego, mas quando cheguei ao topo, com a música composta por Bill Conti a soar na minha memória, era simplesmente o grande campeão do mundo de pesos-pesados.
A minha senhora, que mantém a sanidade, ria e filmava e ria, mas eu ainda não tinha acabado. Eu desci as escadas e pedi uma foto ao lado da estátua de Rocky Balboa, nem que para isso tivesse que esperar uma hora ou duas —a fila estava gigantesca, afinal.
Não esperei tanto, mas, durante a espera, em conversa com uma criança da minha idade, ela dizia-me que o filho, um menino de oito ou nove anos que também ali estava, pensava mesmo que Rocky Balboa tinha existido, que ele era nascido naquela Filadélfia, que ele conseguira triunfar contra todos os obstáculos.
“Nunca acabei com a fantasia”, dizia-me o pai, que viera da periferia naquele domingo. “É uma inspiração para ele.”
E eu pensei: haverá algum personagem na história do cinema americano que tenha furado a tela para se misturar com os mortais desta forma? Rocky Marciano ou Rocky Balboa —qual é a diferença?
O segredo, creio, não está na qualidade dos filmes: com a grande exceção do primeiro, os restantes vão mergulhando na mediocridade. A opinião é pessoal, obviamente.
Ou, como afirma Quentin Tarantino no documentário “Sly”, disponível na Netflix, um filme-homenagem a Sylvester Stallone, hoje beirando aos 80 anos, o primeiro Rocky foi sendo substituído por heróis de BD, básicos e inverossímeis.
Mas aquele primeiro vale uma carreira —e até vale o documentário. Nascido em família pobre e com um pai tirânico e violento, Stallone foi um produto das ruas, tal como o Rocky que interpretou nas telonas.
Aprende-se muito nas ruas só pela observação de quem passa. E escuta-se muito também —linguagens diversas, eruditas ou chulas, e que o ator foi absorvendo como esponja.
É por isso que, no primeiro “Rocky”, de 1976, aqueles diálogos que Stallone escreveu soam tão verdadeiros, porque são toscos, profundos, falhados, vulneráveis, risíveis, belos. Tal como o são na vida real.
E, tal como na vida de Stallone, porque existia em Rocky a urgência desesperada de não ser apenas mais um vira-lata.
O roteiro foi escrito em três dias. E quando lhe ofereceram uma quantia apreciável, mais de US$ 200 mil, para que não fosse ele o ator, para que fosse Burt Reynolds ou Ryan O’Neal —dá para imaginar?—, o vira-lata recusou. Só ele era Rocky porque só ele era Stallone.
O sucesso foi imediato, mas acabou sendo também uma maldição. É o próprio quem o confessa, com um humor inteligente e melancólico: a privacidade evaporou-se, a família ficou esquecida, outros filmes vieram e foram sem deixar rastro, artisticamente falando.
E a vida tornou-se uma busca desesperada por aquele primeiro momento, único e irrepetível, porque única e irrepetível era a fome que o movera.
Uma fome tão imensa que criação e criatura passaram a habitar o mesmo mundo. O nosso mundo. Rocky Balboa nasceu e morreu na Filadélfia, tão certo quanto dois mais dois é igual a quatro.
Ainda visitei o museu. Ainda vi os Cézannes, os Rodins, os Pollocks. Mas não era o dia para prestar homenagem à grande arte. Só à grande memória.
Quando saí do museu, já anoitecia na Filadélfia e a escadaria se encontrava deserta.
Desci os degraus, sem pressa, e chamei um táxi. Com o carro andando, olhei para trás, pelo vidro, pela última vez, e a escadaria foi ficando menor, e menor, e menor, até caber no bolso.
João P. Coutinho (FSP 14/11/23)


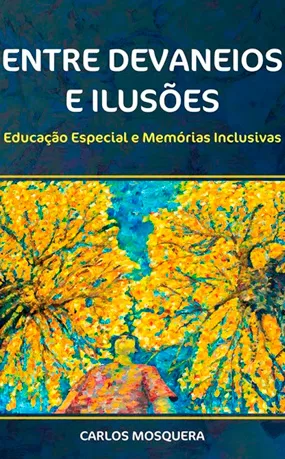

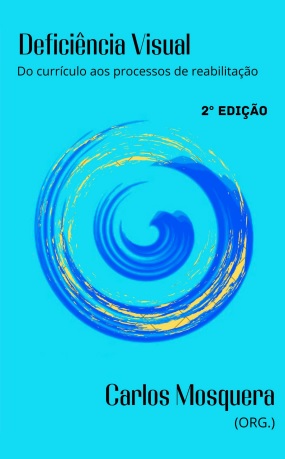
Deixe um comentário