
Desde sempre, para sempre
As lembranças da infância nunca vieram de uma vez.
A cada pergunta, um novo resgate. Memória real ou fabricada?
Algumas foram visitadas muitas vezes. Outras têm registros. Fotos, vídeos, as histórias contadas pelos pais e pelos tios.
Há aquelas guardadas apenas dentro de si. Divididas com pessoas que nunca mais viu.
Sempre aquele tampão no olho, os óculos por cima. A visão borrada, mas não o tempo todo. O alívio de enxergar, só umas horinhas no dia. Ou nos aniversários, nos eventos na escola.
A tentativa de copiar coisas no caderno que mal via. De repente a professora apagando o quadro.
“Espera, por favor”. Enxergava pelas beiradas do tampão? Tirava só um pouquinho pra ver os escritos daquele ditado que não ouvira a tempo?
“Não, demorou demais, depois você pega o resto”.
Ainda consegue sentir a mesma dor quando pensa nisso. Mas pensa pouco. Não quer entristecer ninguém.
Quando o pai chegava a tempo de estudar as lições, pedia para tampar o olho bom, é assim que chamavam. Ainda chamam?
“Quantos dedos você vê?”
“Três”.
“Muito bem, garota”.
Sentia a ansiedade na voz. Queria acertar, não porque faria alguma diferença, já tinha percebido a total falta de evolução; só porque não queria decepcionar.
Era o ano da alfabetização. Cartolinas coloridas pela casa com letras enormes, o suficiente para serem vistas com o olho ruim. Muitos vídeos dessas cartolinas.
Nas brincadeiras com os primos, era tratada diferente. Havia uma proteção maior. Pela avó também. Mesmo que não ganhasse o jogo, sempre ganhava alguma coisa. Não era como os demais, ganhava mais carinho. Devia ser pena. Seus sentimentos eram ambíguos.
Mais tarde, finalmente o tampão cedeu. Aos 7 ou 8. Como era bom enxergar. Santo olho bom.
Mas tem que tomar cuidado. Não pode brincar com bola, não pode participar da educação física. Não pode brincar de luta. Não é qualquer profissão que vai poder ter, não.
Uma lente intraocular e um cartãozinho com a descrição do implante, para o caso de ela sair do lugar.
Mas não pode sair do lugar.
Vesga.
“Quando você fizer 18, pode escolher se quer fazer cirurgia para correção do estrabismo”.
Nunca quis chegar logo aos 18. Gostava de ser criança. Envelhecer só trazia problemas. Não podia mais descer no tobogã, acabou a colônia de férias. Ciências viraram física, química e biologia, e isso ainda era a quinta série.
Outro colégio, novos apelidos. Sempre vesga.
Essa infância é a minha.
Uma parte importante, mas apenas um recorte. Fui uma criança muito feliz. Não quero que pareça o contrário.
Levou um tempo para que eu soubesse responder quando me perguntavam.
Catarata congênita, ambliopia, três cirurgias, yag laser, Penido Burnier. Visão monocular.
“É que eu não enxergo desse lado”, disse quando o examinador do teste de direção perguntou por que eu virava demais o pescoço.
“Vai ter que fazer prova especial então”, um tom meio enraivecido, como se tivesse tomado seu tempo à toa.
Não fiz. Tirei carteira pela prova regular, na terceira tentativa. Demorei muitos anos para dirigir sozinha. Comprei um Smart quando tive dinheiro, o menor carro possível.
Minha mãe e principalmente meu pai nunca me trataram diferente. Em casa, tive uma educação quase mais rigorosa do que teria tido se não tivesse uma deficiência.
Mas eu nem sabia que tinha. Acho que nem eles. Eu deveria ser como todo mundo, aprender como todo mundo.
Com o tempo, minha mãe começou a me contar como é difícil descobrir que seu bebê tem um problema sério. “Era anestesia geral, você ficou toda molinha, eu entreguei para a enfermeira, tão pequena”. Poucos meses. Cedo demais, mas não o suficiente para reverter a falta de visão.
Não entrou luz a tempo, não vai enxergar.
“Mas dever ter alguma coisa para fazer lá nos Estados Unidos”.
Não tinha. Não tem.
Devia ter feito o teste do olhinho, não era obrigatório na época.
Nunca houve diagnóstico. Minha mãe não teve rubéola, foi um pré-natal bem acompanhado. Nenhum outro caso conhecido na família.
“Mas você deu muita sorte, é raro catarata congênita dar em um olho só”.
Alguém com tanta sorte pode ser uma pessoa com deficiência?
Eu demorei a me reconhecer como PcD. A entender que não importava quanto eu minimizasse meu passado de limitações, meu presente de limitações e meu futuro de limitações, ainda seria lida pela sociedade como uma pessoa que tem um problema que não pode ser consertado. E que para muita gente, isso significa poder menos. Ser menos.
Outro dia li que assumir uma identidade é assumir seus traumas e participar da luta. Estou no processo da primeira parte, mas ainda não consegui sequer aprender a ser anticapacitista.
Na verdade, sigo com dificuldade de encontrar meu lugar entre o padrão de normalidade e a deficiência reconhecida como tal. É como se eu fosse normativa demais para ser PcD, mas não o suficiente para não ser. Um meio do caminho entre “nossa, mas então você deve precisar do dobro do tempo para fazer as coisas” – não, não necessariamente – e “mas você tem uma vida normal, né?”.
O que é vida normal para alguém que nunca soube o que é ver o mundo com os dois olhos? Não quero soar dramática, não mesmo, mas qual é o padrão de normalidade esperado de mim?
Só descobri que não tinha visão tridimensional quando os filmes em 3D começaram a aparecer nas telas dos cinemas e eu não podia dizer que preferia um ou outro, porque não sei.
Não acho que fez qualquer diferença na minha vida, mas como vou saber quanto das coisas que não conheço fez ou deixou de fazer diferença? Se aquelas duas hérnias cervicais que descobri há alguns anos têm ou não a ver com um pescoço que vira sempre demais, porque o lado que enxerga é oposto ao que escreve?
Em quanto daquela infância interferiu em tudo que me tornei, na pessoa que, vinte anos depois, segue sem a cirurgia de correção de estrabismo.
Aquela criança ainda sou eu.
Eu, pessoa com deficiência.
Por Cynthia Araújo


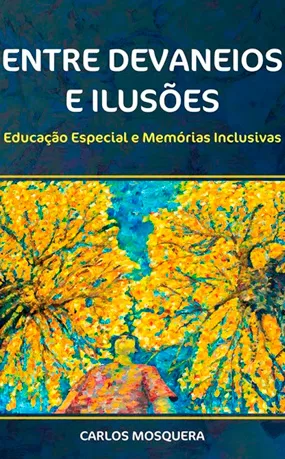

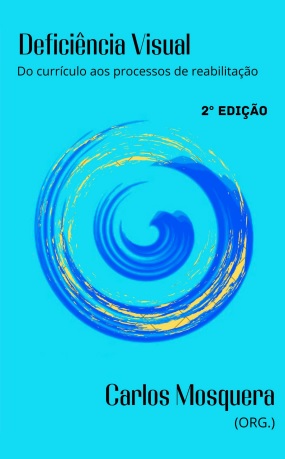
Deixe um comentário