
Como um girassol, a criança está condenada a buscar uma réstia de luz na qual se fiar
Em se tratando do amor pelos filhos, o tom piegas das declarações tem sido uma marca geracional. Nem sempre se pensou essa relação com tons tão carregados de afeto, pois já houve um tempo no qual elogiá-los era equivalente a se autoelogiar em público, algo de extremo mau gosto
Mas talvez a comparação com o autoelogio não seja mais eficiente, uma vez que ele também tem sido um traço da nossa época. “I’m unstoppable, I’m invincible, I’m so powerful, I’m so confident” canta Sia, e com ela milhares de pessoas que sonham introjetar declarações que contrariem suas baixas expectativas sobre si mesmas, seja em função do gênero, da raça ou da classe social. Como sabemos, excessos de um lado servem para encobrir as faltas do outro.
Para a criança, o amor é inegociável, uma vez que ele é imprescindível para que ela sobreviva e se torne humana. Espécie de girassol, a criança está condenada a buscar qualquer réstia de luz na qual se fiar, sob pena de sucumbir.
Em “Dirty John: O Golpe do Amor“, minissérie baseada em casos apresentados no podcast de mesmo nome e inspirados em artigos de Christopher Goffard para o Los Angeles Times, vemos um leque interminável de relações nas quais a palavra amor está associada ao pior. Na série, que trata de casos reais de relações abusivas de casais, duas figuras são intrigantes.

Uma é a do pai que demanda do filho que ele coma cacos de vidro colocados na comida para em seguida chantagear o restaurante ou que ele se deixe atropelar com a mesma intenção. A figura é retratada na ficção como carismática e fanfarrona, mas não raro o é na vida real, confundindo a criança. Cada mutilação que o pai exige que o filho lhe ofereça é acompanhada de declarações de orgulho e estima. A filha, percebendo que nunca alcançaria as graças do progenitor, consegue se livrar do “golpe do amor paterno”, que pede nada mais que a destruição moral, física e psíquica dos filhos em troca de um “eu te amo” carregado de afeto.
A outra figura digna de nota é a mãe, cuja filha é morta pelo marido, seu genro. Quando a jovem passa a reconhecer o ciúmes doentio do marido, pede o divórcio. A consequência está diariamente no noticiário: feminicídio e tentativa de suicídio —o segundo ato nem sempre sendo bem-sucedido. A tragédia não é nova, mas a reação da mãe da vítima ao acontecimento é um dos pontos altos da série.
Diante do júri, no qual fez questão de se apresentar como testemunha de defesa, ela atesta a idoneidade do genro e afirma que ele matou a filha por amá-la demais e por estar muito desesperado com a possível separação. Ato carregado de piedade cristã e arrogante superioridade aos que “não sabem o fazem”. Não à toa, a outra filha dessa mesma mulher, irmã da primeira vítima, se envolve com o sociopata que dá título ao filme, o tal “Dirty John”.
Afinal, a pergunta que as mulheres do filme parecem se fazer é sobre o que é, afinal, o amor; e a fazem colocando a própria vida em risco. Já o sociopata não pergunta nada, pois aprendeu que o amor é aquilo que se extrai do outro à revelia. A partir daí ele tomou sua decisão: não conhecendo outro tipo de “amor”, escolheu ficar na posição de abusador, fugindo da posição de abusado.
Ouvindo o precioso relato que a ministra Marina Silva fez no podcast de Mano Brown sobre sua família, não consegui pensar num exemplo melhor de relação parental que mereça o nome de amor. Ali, uma mãe é capaz de aquiescer ao pedido da filha de cinco anos de morar com sua querida avó —à revelia do próprio desejo materno—, ali um pai, incansável em sua luta, não teme ser guiado por uma mulher. Ali não tem golpe.
Por Vera Iaconelli (FSP 29/08/23)


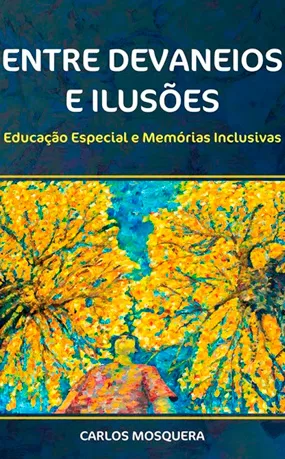

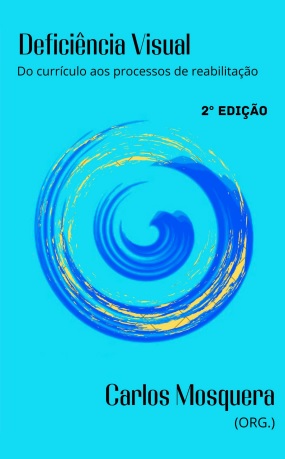
Deixe um comentário