
Como meu neto, que tem uma doença rara, me fez entender a vida de outra maneira
Eu sou uma mãe judia, uma mãe leoa. Minha primeira filha, Clara, nasceu quando eu tinha 23 anos. Tive Miguel dois anos depois. A vida estava se apresentando para mim. Eu estudava psicologia e já dançava nessa época. Botei meus filhos debaixo do braço e fui viver a vida com eles.
Quando fundei a minha companhia de dança, em 1994, os dois ainda eram crianças. Era tudo muito intenso. Eles cresceram comigo, nas coxias dos espetáculos, ao mesmo tempo em que eu crescia profissionalmente. Nunca houve para mim um momento de ser mãe e outro de ser artista. Sempre foi tudo misturado: mulher, mãe, diretora, bailarina, coreógrafa e criadora. A vida, a rua, a escola dos meus filhos, os médicos, os problemas, o palco… A vida doméstica sempre esteve muito dentro do meu trabalho. Não me tranquei no mundo da dança, deixando as outras partes de fora.
Em 2006, fui convidada a fazer um espetáculo do Cirque du Soleil. Fui a primeira mulher a dirigir a trupe, num espetáculo chamado Ovo, sobre o ciclo de vida dos insetos, que nascem todos de ovos. Eu vivia entre o Rio e Montreal, no Canadá, onde fica a sede do Cirque du Soleil. O espetáculo estreou em 2009. Naquele mesmo ano, tive uma notícia muito feliz: Clara, que vivia no Rio de Janeiro, estava grávida de meu primeiro neto. Apesar da distância, não desgrudamos.
Eu fiquei muito ansiosa. Sempre ouvi falar que ser avó era a melhor coisa do mundo. Eu pensava em ser a avó que ia curtir meu neto e ter muita energia para brincar e viajar. E foi o que aconteceu. Sabia que ele, assim como meus filhos, iria invadir a minha vida profissional. Como de fato invadiu.
Theo chegou no dia 21 de agosto de 2009. Quando ele nasceu, percebeu-se que um pedacinho da pele de seu pé despregou com o atrito, revelando uma ferida. Logo depois, apareceu outra ferida na cabeça dele, e outra na mãozinha. Levaram o Theo para a UTI. Foi um susto. Ele estava respirando perfeitamente, mas tinha algo na pele que os médicos não sabiam dizer o que era. Nas primeiras trinta horas depois do nascimento, houve uma grande mobilização para entender o que estava acontecendo. Até que uma enfermeira apareceu com um livro no qual havia uma pista sobre o que talvez ele tivesse: epidermólise bolhosa. Um nome complicado. Com o tempo passamos a chamar de EB.
A EB, que é causada por uma mutação genética, deixa a pele muito frágil. Até na hora de colocar uma fralda podia machucar. O banho precisa ser cuidadoso. Não se pode pegar a criança pelos sovacos. Tem que apoiar as costas do bebê até o bumbum nos seus braços para não puxar a pele. Foram delicadezas como essas que nossa família teve que aprender.
Só tivemos um diagnóstico exato uma semana após o nascimento do Theo, depois que coletamos material do nariz e da boca para que o DNA fosse analisado no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Naquela época, não se fazia no Brasil o mapeamento genético que mostrava com precisão de qual tipo de EB se tratava. Com a ajuda da minha amiga Ilana Zalcberg, consegui fazer nos Estados Unidos.
Existem três tipos de EB: simples, juncional e distrófica. Theo tem a terceira. O nome é mais feio ainda: epidermólise bolhosa distrófica recessiva. Todas elas são causadas por mutação genética, um erro na cadeia do DNA. A criança que nasce com EB tem uma produção insuficiente de colágeno, a proteína que une a derme à epiderme e é responsável pela firmeza e elasticidade da pele. Qualquer atrito gera uma lesão difícil de curar. Algumas crianças não produzem quase nenhum colágeno, então é uma EB barra-pesada. Nos Estados Unidos, a EB é conhecida como butterfly skin, porque a pele da borboleta é frágil. No Chile, é chamada de piel de cristal. São nomes mais bonitos e delicados, porque é a doença da fragilidade.
Notamos que as feridas apareciam no Theo em pontos específicos, como o pezinho. Conversando com um, com outro, descobrimos que, para os curativos, era melhor usar um material feito de poliuretano, que não gruda na pele como a gaze. Mas a EB causa problemas internos também. Theo tinha dificuldade para mamar. Fomos atrás do bocal de mamadeira que não machucasse a boquinha dele. Aprendemos que a criança com EB tem dificuldade para deglutir e evacuar.
A epidermólise bolhosa é uma doença rara. Estima-se que atinja 19 pessoas em 1 milhão. Mesmo assim, os médicos e os hospitais precisam saber mais sobre ela e estarem mais bem preparados para auxiliar as famílias. O mundo tem que entender que essas doenças, essas raridades, fazem parte da vida. O que eu achava inaceitável, inconcebível, é nascer alguém com uma condição como a EB e não existir nada para melhorar isso. Não digo curar, mas melhorar: um tratamento, um creme, um remédio, um alívio. É inaceitável, é ignorante, é desrespeitoso não ter quase nada para ajudar. Foi assim que eu percebi, com o nascimento do Theo, que o meu maior inimigo era a ignorância. E a ignorância também resvalava para a discriminação.
No meu olhar de avó e de cidadã, penso que nós todos devemos cobrar do governo, dos hospitais, do mundo médico que tenham mais informação sobre as possibilidades de tratamento. A falta de conhecimento sobre a doença no Brasil me gerou revolta e, ao mesmo tempo, vontade de lutar. Dei a mão à ciência. Me agarrei nela de uma maneira muito forte. Mas descobri também que a ciência demanda paciência, tempo, experimentação, investimento e vontade política. O desconhecimento deu uma surra muito grande em nós.
Um contato importante que fizemos foi a Debra, a Dystrophic Epidermolysis Bullosa Research Association (Associação de pesquisa da epidermólise bolhosa distrófica), uma organização que atua em vários países, inclusive, muito timidamente, no Brasil. Por meio dela, descobrimos uma rede genial de pessoas, mães, avós, muitas sem recursos financeiros. Um ajuda o outro. Percebi que muitas famílias de pessoas com EB viviam se escondendo com medo do preconceito.
Em 2013, minha filha viu na tevê uma entrevista com o biólogo Radovan Borojevic, professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que estuda um tipo de célula-tronco chamada mesenquimal, responsável pela formação das células adiposas, ósseas e cartilaginosas. Essas células-tronco têm alta capacidade de divisão e proliferação, o que permite a renovação dos tecidos produzidos por elas ainda na fase embrionária. Clara percebeu que o trabalho do doutor Borojevic talvez pudesse ajudar o Theo, mesmo que tudo tivesse caráter experimental, e então escreveu para o professor.
Explorando o mundo científico, com essa nova possibilidade, subimos a montanha. O Theo fez uma infusão de células-tronco mesenquimais. Mas, três semanas depois, constatamos que a terapia não havia funcionado – descemos a montanha. Mas não desistimos.
Ofilme Clube de Compras Dallas me lembrou muito o que se passa com a minha família. Ele conta a história de um grupo de pessoas que, nos anos 1980, diagnosticadas com o vírus da Aids, resolvem buscar remédios e alternativas para a cura da doença. A EB não tem cura, e alguns tratamentos são alternativos. A Clara e o Pedro, pais do Theo, e toda a nossa família, que não é pequena, entendemos que, como no Brasil sabia-se muito pouco sobre a doença, precisávamos ir para o mundo.
Logo depois do tratamento com as células-tronco mesenquimais, ficamos sabendo de um creme chamado Curefini, desenvolvido por um médico argentino e produzido em Miami, em cuja composição há elementos como vaselina e óleo de fígado de bacalhau. Fomos à Argentina conversar com o médico e conhecer melhor o produto. Na década passada, o Curefini não estava regularizado no Brasil como hoje. Pedíamos para algumas pessoas que trouxessem para nós. Eu mesma trouxe escondido na mala. Chegamos a promover um encontro na casa da Clara para apresentar o creme a famílias com pessoas que tinham EB. Durante um tempo, o produto foi bom para o Theo, aliviando os sintomas. Mas como a EB é uma doença crônica, o creme parou de fazer efeito. Depois de subir a montanha outra vez, tivemos que descer novamente.
Em 2013, Theo, Clara e Pedro, que moram no Rio, foram me ver na Bahia, onde eu apresentava um espetáculo. Ficaram uma semana comigo em Salvador. Quando a gente voltava para o Rio, num voo da Gol, uma aeromoça se aproximou e disse, por causa das feridas do Theo: “Vocês têm algum atestado?” Eu falei: “Atestado de quê? Não é uma doença que exige atestado para viajar. É só uma questão visual. Não é contagioso.” Ela foi embora, mas retornou depois de alguns minutos: “Mas vocês não têm atestado?” Na quinta vez que perguntou, eu me irritei. Disse que, se meu neto tinha ido para a Bahia pela mesma companhia aérea sem precisar de atestado, por que não poderia voltar? Mas não adiantou. Chamaram um médico, veio a polícia, quiserem tirar a gente de lá. Eu liguei de dentro do avião mesmo para o então governador da Bahia, Jaques Wagner, que tinha ido ver meu espetáculo, e contei sobre aquela situação absurda. O caso teve grande repercussão. O Theo tinha 4 anos, não era para ele ficar trancado dentro de um avião com todo mundo olhando e falando sobre a nossa situação. Finalmente, seguimos viagem no mesmo avião.
Isso acontece o tempo todo: o modo como as pessoas olham de maneira preconceituosa, indelicada, para os que têm doenças raras. Já houve situações em que perguntei, com delicadeza: “Vem cá, por que você está olhando? Teu nariz é grande e nem por isso estou prestando atenção nele.”
Em 2015, Clara passou por algumas tentativas de inseminação in vitro para engravidar. Sua intenção era gerar uma criança que pudesse ser doadora de medula 100% compatível com Theo, para realizar um transplante. Depois de algumas tentativas, Clara conseguiu um óvulo 100% compatível com o Theo. E, em 2016, nasceu a Alice.
As pessoas dizem que a Alice é minha reencarnação. Ela tem 5 anos, mas já escala a parede do cenário e adora dançar. Ela é irmã, parceira e amiga do Theo. Em 2017, a gente foi para Minneapolis, também nos Estados Unidos, realizar o transplante de medula. Eu me hospedei em um hotel. Clara e sua família, numa casa do Instituto Ronald McDonald, uma sociedade beneficente que tem residências no mundo inteiro para receber os que têm doenças raras e seus familiares. Foi uma experiência maravilhosa encontrar tantas pessoas na mesma situação que nós. É outra humanidade, outro pensamento sobre o mundo. Você aprende o valor da vida, lida com outras realidades, com o extraordinário.
Então, a gente fez o transplante de medula óssea da Alice para o Theo. Embora não haja casos de cura da EB por esse tipo de transplante, havíamos resolvido tentar e estávamos com uma expectativa alta. Parecia que os sinos estavam tocando no céu, uma glória. Mas não deu tão certo quanto a gente esperava. Nossa expectativa era de que o Theo tivesse uma melhora muito grande, que o transplante o levasse a aumentar a produção de colágeno. Mas não foi o que ocorreu. Despencamos da montanha mais uma vez. O pós-operatório foi muito difícil. Quando você manda um soldado para a guerra, ele tem que estar forte. Quando você manda alguém debilitado, é outra história. Mas o fato de ele ter resistido, sobrevivido, é o que importa.
Na época, fiquei sabendo pelo médico Jakub Tolar, da Universidade de Minnesota, que realizou o transplante, da existência do sistema crispr, sigla para um nome complicado: Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, ou Repetições Palindrômicas Curtas Agrupadas e Regularmente Espaçadas. Ele me explicou que o CRISPR é uma espécie de tesoura feita de enzima que corrige um defeito genético na cadeia do dna. Em outras palavras, é uma técnica de edição genética muito sofisticada, que corta e remonta o DNA para tratar doenças. Foi desenvolvido por duas mulheres que ganharam o Prêmio Nobel de Química, a francesa Emmanuelle Charpentier e a norte-americana Jennifer Doudna. Tolar me contou sobre essa nova técnica que surgia naquele momento e me disse que seriam necessários 20 milhões de dólares para fazê-la. Voltei correndo para o Brasil para tentar obter a quantia com investidores, mas foi impossível. Era um valor muito alto.
Na virada de 2018 para 2019, faleceu o pai dos meus filhos, o fotógrafo Carlos da Silva Assunção Filho, o Cafi. Foi um baque grande para Clara, que era muito ligada ao pai, e para todos nós. Minha filha e sua família resolveram dar um tempo do Brasil e se mudaram para Nova York, onde há melhores condições de atendimento médico para o Theo.
Naquele momento, eu estava em cartaz com o espetáculo Cão sem Plumas, baseado no poema de João Cabral de Melo Neto e que fala sobre a dureza da vida do homem do sertão, sobre o que é inadmissível, inaceitável. Era exatamente o que eu sentia. Como eu não podia dissociar a avó da artista, no Cão sem Plumas exorcizei a minha indignação, a minha revolta com a situação do Theo e de nossa família.
No subir e descer a montanha, percebi que precisava de outros fortalecimentos: emocional, intelectual e espiritual. Como o transplante não havia trazido a cura que a gente foi buscar, eu tinha que encontrar por conta própria uma cura, mesmo sabendo que seria a cura de algo que não tem cura.
Eu precisava fazer uma ponte entre a ciência e a fé. Tinha que entender que há um momento em que se deve gritar e outro em que é preciso calar. Um momento de brigar e um momento de esperar. A ciência pode ajudar a melhorar a situação dele, mas meu neto vai continuar sendo um menino com EB.
Sou apaixonada por ele, por tudo que me deu. Sou conhecida por ser mandona, autoritária, mas o Theo vem e me dobra. Ele fala “Vovó”, e eu: “Ahhhh!” Compreendi que eu precisava curar outras coisas, o emocional dele, o meu emocional. Aceitar, buscar alegria, buscar espiritualidade e positividade.
Foi em março de 2018 que cheguei a esse entendimento. Eu estava em uma turnê no Nordeste quando o físico Stephen Hawking morreu, aos 76 anos de idade. Eu li todas as reportagens a respeito e pensei: Deram a ele um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ela) e disseram que morreria em três anos. Hawking viveu mais de cinquenta anos. Perdeu todos os movimentos, só mexia a pálpebra, e ainda assim teve anos iluminados, criativos e potentes. Esse cara descobriu a cura do que não tem cura.
Então comecei a pensar sobre qual seria o meu próximo espetáculo. O que eu estou precisando dizer agora? A síntese de todo esse sobe e desce na montanha, o cai e levanta, o tenta e não dá certo. Então nasceu o nome e a ideia do meu novo espetáculo, Cura. Nele, eu faço a ponte entre a ciência e a fé. A ciência é importante, mas, se os cientistas me dizem “Deborah, não existe cura ainda”, então eu preciso encontrar a cura em outras buscas, na arte, por exemplo. Preciso encontrar a cura do que não tem cura.
O que o mundo diz que é normal, para mim é falso. Eu gosto das pessoas extraordinárias, das pessoas especiais, das diversidades. Um dia, a Clara me disse: “Mãe, atenção, porque esse neto que você ama tanto é o Theo com EB.” Ela foi a primeira pessoa a me dizer isso. A gente gosta dele assim, com a luta que ele trava, com o olhar e a timidez que tem, com a fragilidade que é dele. Eu descobri que, dentro da fragilidade do Theo, existe uma enorme força.
Quando eu estava pensando no meu novo espetáculo, disse ao rabino Nilton Bonder, que é também dramaturgo e escreveu o texto do espetáculo comigo: “Quero mexer com culturas que buscam a cura.” Índios, africanos, judeus, árabes, sufis, budistas. Fui buscar histórias, canções, danças, salmos. Se não posso curar o físico, posso coagular a emoção, regenerar o intelectual e transcender o espiritual.
Eu sempre perguntava ao Bonder: “O que é curar?” É se aproximar da dor do outro: visitar é curar, aceitar é curar, lutar é curar, ter o direito de pedir é curar. A cultura indígena busca a cura, o candomblé e os judeus também buscam. Tive que fazer muitas viagens para criar esse espetáculo. Fui à África, fui à Bahia. Quando voltei de Moçambique, Bonder me perguntou: “E aí, encontrou a cura que você foi buscar?” Eu respondi: “Encontrei alegria e decidi uma coisa: no meu novo trabalho, a gente vai dançar e cantar, porque lá todo mundo dança e canta.” E eu não poderia escolher outra pessoa para compor a trilha sonora de Cura: tinha que ser o Carlinhos Brown.
Venho me aproximando de saberes e conhecimentos, e cinco personagens ajudaram na condução desse espetáculo: o menino Theo, meu iluminado guerreiro, Obaluaiê (orixá da doença e da cura), Stephen Hawking (que se cura liberto do corpo, com sua mente potente), Jesus (que é o símbolo do amor) e Leonard Cohen, cuja poesia e conexão espiritual falam da transcendência da cura e da revelação da morte, a grande cura.
O Theo, ao nascer, me levou a buscar outros conhecimentos, a entender a vida de outra maneira. A minha indignação me levou à ciência e me fez lutar contra a discriminação. A urgência da vida me levou na direção da fé, da alegria, da arte. Theo é só vida, evolução, transformação e amor. Sou uma avó feliz.
*Revista Piauí/Folha
O espetáculo Cura, de Deborah Colker, estreia (com a presença de público) no dia 6 de outubro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Também está disponível no Globoplay.


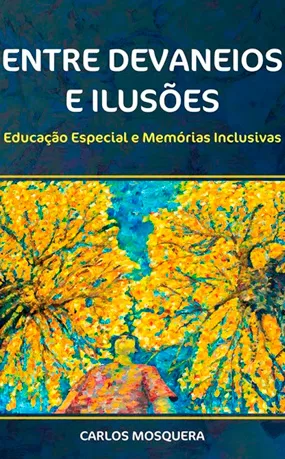

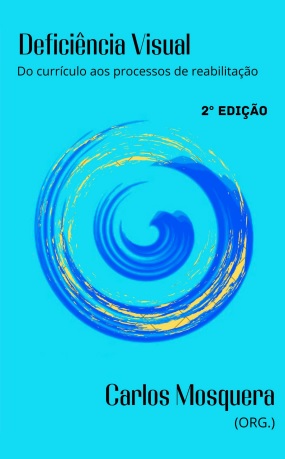
Deixe um comentário